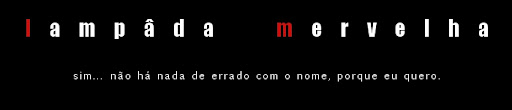É um ódio. Daqueles pecados que se desejam mais, e mais, muito mais que a própria compreensão. E nada é, se fosse o acaso um punhal nas suas mãos. É um ódio, vicioso, dissimulado entre quem sou e quem quem digo ser.
Guarda-se nas veias. Espinha-se na alma. Consentindo a hora tardia a um profundo respirar. Não te percas, não te faças mais à berma, que de linhas sei eu mesmo sem as ver. Tingidas as mãos, essas malditas, cabe a uma alegoria a que se dá o nome de destino, velar pela noite que demora, cerrar os dentes e esperar pelo dilatar das pupilas.
Dissuade. Arredia, essa lesta mão que levas ao peito, passando para cá e para lá, o gume que faz de ti única. De ti, que em mim nada tenho senão esperar-te mais que o nada. E por tudo o que possa dizer, quedo-me pela invenção de um dia de cada vez.
E guarda-se na teia, na voz rouca aguçada, na fome de ir. E esperas-me na ânsia de vaguear, convertendo a luz em sombra, porque sou-o neste todo que se dissipa, até ti.